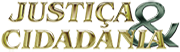Edição 298
Conhecer para aplicar os direitos dos povos indígenas: o relatório do GP Ética e Justiça da Enfam
2 de junho de 2025
André Augusto Salvador Juiz de Direito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo / Professor do Mestrado Profissional da Enfam
Melyna Machado Mescouto Juíza de Direito no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul

O processo de positivação de direitos dos povos indígenas, intensificado a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, não tem impedido a permanência do quadro de silenciamento dos saberes e das formas de existência desse mesmo estrato da população. Nesse contexto, amplifica-se a responsabilidade do Poder Judiciário de atuar para fazer valer os direitos consagrados, reduzindo a distância da realidade das normas jurídicas que garantem a interculturalidade e a realidade da vida de violações.
Como, porém, tornar efetivos direitos cujo conhecimento não é prioridade no ensino jurídico? Como fazer que operadores e operadoras do Direito apliquem normas que requerem diálogo igualitário com saberes tradicionais e não eurocêntricos, frequentemente ignorados nas faculdades espalhadas pelo país?
Produto de trabalho coletivo levado a efeito por membros do Grupo de Pesquisa (GP) Ética e Justiça do Mestrado Profissional da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), o relatório “Povos Indígenas e Direitos Humanos no Poder Judiciário Brasileiro” busca, justamente, contribuir com a abertura do Poder Judiciário à interculturalidade. Parte-se da constatação de que, em pleno século XXI, os povos indígenas seguem sendo alvos de negação de direitos fundamentais e silenciamento da própria existência, a despeito de normas jurídicas que vigoram sob a promessa da igualdade e da não discriminação.
Diante de um cenário marcado por lutas históricas e processos contínuos de resistência dos povos indígenas, o estudo adota o pensamento decolonial como referencial teórico para problematizar a atuação do Judiciário brasileiro em face das assimetrias étnico-raciais estruturais. Reconhece que a colonialidade – como estrutura persistente de poder e de produção de saber – continua a monopolizar os critérios de classificação social e a controlar os discursos hegemônicos sobre identidade e diferença, contribuindo para a reprodução de práticas judiciais discriminatórias.
O relatório pretende, então, afirmar a autodeterminação, a autoidentificação e a multiplicidade ontológica dos povos indígenas como princípios fundamentais para a construção de um Judiciário mais sensível, plural e comprometido com a justiça social. Para isso, o documento: (i) estimula a reflexão crítica sobre as práticas judiciais na proteção de direitos diferenciados e (ii) harmoniza as normas internas com os standards normativos internacionais voltados à proteção responsiva da diversidade.
Pretende-se, assim, oferecer subsídios teóricos e normativos que viabilizem atuação judicial eticamente orientada, sensível à diversidade étnico-cultural e comprometida com a efetivação dos direitos fundamentais dos povos indígenas, em consonância com os marcos internacionais de proteção aos direitos humanos. Para além da sistematização normativa, o documento realiza um mapeamento de normas nacionais e internacionais relativas ao tratamento jurídico conferido às pessoas e aos povos indígenas em distintos temas, conferindo especial destaque à jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos nos casos em que o Brasil figura como parte.
Essa ênfase busca fomentar consciência crítica acerca da atuação judicial em matéria que envolve pessoas e povos indígenas. A Corte, como órgão responsável por harmonizar o pluralismo jurídico por meio do estabelecimento de standards mínimos de proteção, atua simultaneamente no reconhecimento da diversidade e na indução de transformações nas estruturas institucionais responsáveis pela perpetuação de violações.
Sob tais premissas, o relatório foi estruturado em cinco seções principais: inicia-se com a contextualização do tema, seguida da apresentação do sistema internacional de direitos humanos aplicável aos povos indígenas, com destaque para normas de alcance geral e especial. Na sequência, foram examinadas as principais normativas indigenistas presentes no ordenamento jurídico brasileiro, acompanhadas de reflexões críticas sobre sua eventual não recepção ou inconvencionalidade. Discutiram-se, ainda, a Agenda 2030 da ONU e os desafios relacionados à sustentabilidade institucional na implementação de práticas judiciais inclusivas e pacificadoras, que respeitem – e não silenciem – os saberes e as epistemologias dos povos indígenas. Por fim, abordaram-se o sistema interamericano de direitos humanos e a jurisprudência correlata da Corte Interamericana, com ênfase em caso emblemático envolvendo o Brasil.
A divisão elaborada teve o propósito de conferir visibilidade aos novos padrões de proteção que devem orientar os diversos eixos de acesso à justiça, em condições de igualdade substancial e não discriminação. Tais padrões impõem deveres específicos ao Estado, especialmente aos integrantes do Sistema de Justiça, que, diante de um contexto historicamente marcado por discriminação de matriz étnico-racial – engendrada pelo colonialismo e perpetuada pela colonialidade do poder –, devem assegurar a efetividade desses direitos por meio de práticas judiciais comprometidas com o reconhecimento e o respeito à diversidade ontológica e epistêmica dos povos indígenas.
Em um cenário de intensa judicialização de conflitos envolvendo os direitos e os territórios dos povos indígenas, constata-se que, historicamente, pouco espaço foi reservado à construção de instrumentos capazes de subsidiar os operadores do Sistema de Justiça na condução de atuação verdadeiramente sensível às diferenças culturais, políticas e ontológicas desses povos. A ausência – ou insuficiência – dessa orientação tem contribuído para a reprodução de práticas judiciais descontextualizadas, muitas vezes incompatíveis com as formas de organização social, espiritual e normativa próprias das comunidades indígenas. Tais práticas, frequentemente naturalizadas nos processos judiciais, acabam por transformar a própria intervenção estatal em instrumento de violação de direitos, exigindo, por conseguinte, reorientação profunda da atuação judicial, a partir da construção de pontes que favoreçam um autêntico diálogo intercultural.
Nesse contexto, o relatório emerge como um instrumento, quiçá pedagógico, voltado não apenas à formação de magistradas e magistrados, mas também à qualificação dos demais profissionais do Direito. A finalidade é contribuir para que intervenções culturalmente adequadas se tornem mais recorrentes na prática forense, sobretudo no interior dos processos judiciais. Ao fomentar compreensão crítica e plural dos direitos humanos dos povos indígenas, o relatório consolida-se como ferramenta estratégica para o fortalecimento de cultura institucional comprometida com a justiça social, a escuta intercultural e a superação das assimetrias historicamente produzidas.
Longe de atuarem como protagonistas isolados, tendo apenas o Direito como referência, juízes e juízas assumem a função de construir pontes dialógicas entre múltiplos sistemas jurídicos, que precisam ser mobilizados, a fim de proteger e garantir direitos especiais, tanto no interior dos processos judiciais quanto em outros cenários de intervenção do Sistema de Justiça. Essa atuação demanda escuta qualificada e respeitosa da relação com pessoas e povos indígenas, reconhecidos como sujeitos de direitos, dotados de autonomia e autodeterminação para decidir sobre os assuntos que lhes dizem respeito.
A importância do documento reside, principalmente, no reconhecimento de que o Poder Judiciário brasileiro ocupa papel de extrema relevância na efetivação dos direitos humanos dos povos indígenas, ao mesmo tempo em que precisa enfrentar os desafios decorrentes de uma sociedade marcada pela pluralidade étnica e por desigualdades estruturais. A sistematização proposta pelo relatório não pretende esgotar o tema, mas oferecer um compêndio normativo e jurisprudencial inicial, com o propósito de viabilizar o acesso à justiça e fomentar o controle de convencionalidade por parte dos juízes e tribunais.
Afinal, quando se fala em direitos dos povos indígenas, pode-se vir à mente à seguinte pergunta: como permitir que membros da magistratura formados sob parâmetros eurocêntricos, que tradicionalmente ignoram modos de vida de populações tradicionais, apliquem direitos positivados em favor dessas mesmas populações? Entre tantas respostas possíveis, não se pode deixar de mencionar aquela que é a base de qualquer outra, isto é, a que considera a formação de uma magistratura a ser dotada de conhecimentos amplos.
Conteúdo relacionado: