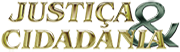Edição 300
COP30 e o cenário jurídico da sustentabilidade no Brasil
4 de agosto de 2025
Luísa Bahia Corrêa da Veiga Advogada / Presidenta da Comissão de Crédito de Carbono da OAB Nacional

Em novembro deste ano, a cidade de Belém/PA, a porta de entrada da região amazônica, sediará a 30a Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC). Trata-se de evento de magnitude global, que tem por objetivo viabilizar, às partes signatárias, a discussão e a negociação de estratégias para o combate às mudanças climáticas, com foco na limitação do aquecimento global por meio da estabilização das concentrações de Gases de Efeito Estufa (GEEs) na atmosfera.
A COP é o principal fórum internacional para a tomada de decisões sobre o clima, e seus encontros reúnem representantes de governos – atualmente 198 países signatários, além de cientistas, organizações não governamentais e setor privado. A primeira reunião da COP aconteceu em 1995, em Berlim, três anos após a criação da Convenção-Quadro das Nações Unidas durante a Cúpula da Terra na cidade do Rio de Janeiro, conhecida como Rio-92.
Grandes acordos internacionais foram elaborados no âmbito das COPs, com destaque para o Protocolo de Kyoto, em 1997, que estabeleceu metas de reduções de emissões para os países desenvolvidos – um marco para o reconhecimento da relevância do enfrentamento dos problemas climáticos decorrentes de processos de industrialização e desenvolvimento adotados por estas nações –, e o Acordo de Paris em 2015, que estabeleceu um objetivo a longo prazo para a limitação do aumento da temperatura global média a bem abaixo de 2 °C acima dos níveis pré-industriais.
Agora, passados 33 anos do nascimento da Convenção-Quadro em solo brasileiro, o país terá a oportunidade de se posicionar no cenário mundial da sustentabilidade e de mostrar que, assim como em 1992, grandes passos rumo a um mundo mais sustentável serão tomados no território da maior floresta tropical do mundo. No entanto, em meio às grandes expectativas e às inúmeras controvérsias, e sob intenso escrutínio global, é importante que o Brasil seja cauteloso e firme, fundamentando suas decisões em sólidos pilares jurídicos, para evitar que essa oportunidade de posicionamento se torne um desastre reputacional para a nação.
O desenvolvimento sustentável é alicerce do Estado brasileiro, e constitui direito fundamental expresso na Constituição Federal de 1988, por meio da proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e com a exigência de conciliação da função social da propriedade com o desenvolvimento econômico e com a proteção ambiental. Com isso, a Carta Magna não apenas reconheceu o meio ambiente como um bem jurídico autônomo, mas também impôs ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações presentes e futuras.
Este posicionamento foi reiterado em várias oportunidades pelo Supremo Tribunal Federal, que já destacou: (i) o caráter fundamental do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a responsabilidade do Poder Público de garantir a efetividade desse direito; (ii) o reconhecimento de que há um dever constitucional de proteção ambiental e climática, vinculando o Estado a compromissos assumidos em âmbito internacionais; e (iii) a constitucionalidade de dispositivos do Código Florestal que permitiam a compensação da Reserva Legal em áreas distantes da propriedade original, desde que a compensação fosse realizada em áreas de mesma equivalência ecológica que contribuísse para a conservação da biodiversidade e proteção dos recursos naturais.
A jurisprudência da Suprema Corte, ao interpretar e aplicar os dispositivos constitucionais relacionados ao meio ambiente, demonstra o compromisso do Estado brasileiro com a proteção ambiental, elevando-o à condição de direito fundamental essencial à saúde, à qualidade de vida e à dignidade humana.
Já do ponto de vista da legislação infraconstitucional, o arcabouço ambiental brasileiro se consubstancia em um sistema complexo e abrangente de diversos instrumentos normativos que buscam operacionalizar a sustentabilidade em diferentes setores da economia e da sociedade. A Lei no 6.938/1981 – Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) – é marco fundamental nesse processo, estabelecendo os princípios e os objetivos da política ambiental brasileira e criando mecanismos que visam mitigar os impactos ambientais das atividades potencialmente poluidoras.
O Código Florestal – Lei no 12.651/2012 – desempenha papel crucial na proteção da vegetação nativa e na promoção do uso sustentável do solo. Trata-se de exemplo global de como o Brasil busca equilibrar o desenvolvimento com a preservação do meio ambiente, com o estabelecimento de Áreas de Proteção Permanente (APPs) e Reservas Legais (RLs), definindo regras para a exploração florestal sustentável e incentivando práticas de manejo que garantam a conservação da floresta e geração de renda para as comunidades locais.
No âmbito da coação normativa, a Lei de Crimes Ambientais (Lei no 9.605/1998) estabelece sanções penais e administrativas para condutas lesivas ao meio ambiente, visando dissuadir a prática de crimes ambientais como o desmatamento ilegal, a extração irregular de recursos naturais e o comércio ilegal de animais silvestres.
Não obstante a robustez teórica, a legislação ambiental brasileira enfrenta desafios significativos na aplicação prática, o que compromete a efetividade da proteção ambiental. A morosidade e a complexidade dos processos de licenciamento ambiental, a dificuldade de fiscalização e a impunidade, geram insegurança jurídica e dificuldade de implementação de projetos sustentáveis. Este cenário, somado à falta de integração entre as políticas públicas e políticas econômicas, impede a internalização dos custos ambientais pelas empresas e dificulta a transição para uma economia de baixo carbono.
Diante dos desafios na aplicação da legislação ambiental, a busca por instrumentos inovadores que incentivem a internalização dos custos ambientais e promovam a transição energética torna-se imperativa. É neste contexto que a Lei no 15.042/2024, que institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE), ou o mercado regulado de carbono do Brasil, entra em sintonia com a tendência global de estabelecer uma precificação sobre as emissões de GEEs, alinhando o Brasil com mercados globais e com a viabilização de internalização do custo ambiental das emissões aos processos de produção das empresas.
A instituição do SBCE abre um leque de oportunidades para o setor florestal e para o Brasil, que detém vasta área de florestas tropicais com alto potencial de sequestro de carbono. Este mercado constitui oportunidade estratégica de valorização de seus ativos florestais e inserção nas cadeias de valor sustentáveis do planeta. Para tanto, é necessário realizar um trabalho de fortalecimento das instituições jurídicas nacionais, com vistas a conferir maior segurança jurídica, especialmente no que diz respeito à posse da terra e aos direitos das comunidades locais e dos povos indígenas.
A regularização da posse da terra é condição sine qua non para a implementação de projetos de carbono em larga escala. Sem a garantia da titularidade da terra, há severa insegurança para os investidores, que deixam de alocar recursos em projetos de longo prazo, o que aumenta a vulnerabilidade das comunidades locais à grilagem e exploração ilegal de terras, comprometendo a sustentabilidade ambiental e social dos projetos.
Ademais, como um país com uma relevante população de povos indígenas, a garantia dos direitos das comunidades locais e dos povos indígenas nos projetos de carbono é imperativo moral, ético e jurídico. É preciso assegurar o consentimento livre, prévio e informado das comunidades, o respeito aos seus conhecimentos tradicionais e a repartição justa e equitativa dos benefícios gerados pelos projetos, em consonância com a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Mecanismos transparentes de consulta e participação, criação de instrumentos de salvaguarda social e ambiental e fortalecimento da governança local são essenciais para garantir que os projetos de carbono contribuam para o desenvolvimento sustentável das comunidades.
A responsabilização por eventuais danos ambientais causados pelos projetos e a definição de regras claras sobre a tributação dos créditos de carbono também são temas que exigem atenção para garantir segurança jurídica e atratividade ao mercado de carbono no Brasil. Ademais, é necessário garantir, durante a regulamentação da Lei no 15.042/2024, sólida articulação com o Código Florestal, o que implica encontrar mecanismos que incentivem a conversão do passivo ambiental em ativo, criando instrumentos de monitoramento e fiscalização ambiental efetivos e eficientes, e desenvolvendo uma governança robusta.
Esta governança deve ser marcada pela coordenação entre diversos órgãos e entidades governamentais e mecanismos de financiamento responsáveis. Não se deve olvidar que a complexidade da região amazônica demanda a criação de um sistema integrado de informações ambientais, além do fortalecimento do Ministério Público e do Poder Judiciário para a responsabilização de infratores e para a garantia do cumprimento da legislação.
Vale destacar a relevância do papel do financiamento neste cenário, uma vez que, para além dos recursos públicos e fundos ambientais, o desenvolvimento sustentável na Amazônia depende de atração de capital privado. Assim, instrumentos como títulos verdes, fundos de investimento em ativos ambientais e pagamento por serviços ambientais se mostram cruciais para o desenvolvimento de projetos sustentáveis. No entanto, o sucesso do financiamento sustentável depende da definição de critérios claros de exigibilidade, avaliações de impacto rigorosas e sistemas transparentes de verificação e reporte, a fim de garantir que os projetos gerem benefícios ambientais e sociais reais, promovendo futuro de prosperidade e equilíbrio para a Amazônia, para o Brasil e para o mundo.
A escolha de Belém como sede da COP30 representa oportunidade para o Brasil impulsionar a sua agenda de sustentabilidade, tanto no âmbito nacional quanto internacional. A visibilidade global exige que o país apresente resultados concretos e compromissos ambiciosos em relação à mitigação das mudanças climáticas, à proteção da biodiversidade e à promoção do desenvolvimento sustentável. É grande oportunidade para mostrar que o Brasil está comprometido com a construção de um futuro sustentável e que possui potencial e capacidade para liderar a transição global para uma economia de baixo carbono.
Para que a COP30 seja um legado do Brasil, é fundamental fortalecer a governança ambiental, atraindo investimentos para a implementação de projetos sustentáveis e para a promoção da justiça climática na Amazônia. Para isso será crucial a implementação de políticas públicas eficazes, o aprimoramento do arcabouço legal e regulatório, o fortalecimento das instituições de fiscalização e controle e a garantia da participação das comunidades locais e dos povos indígenas nas decisões que afetam seus territórios e seus modos de vida. A promoção da justiça climática, em particular, é crucial para garantir que os benefícios da transição para uma economia de baixo carbono sejam distribuídos de forma equitativa.
Nesse contexto, o Direito desempenha papel fundamental, não apenas como instrumento de regulamentação e controle, mas também como ferramenta de planejamento, incentivo e promoção da inovação. É preciso criar ambiente jurídico favorável aos investimentos sustentáveis, que ofereça segurança jurídica e incentive a adoção de práticas responsáveis e adequadas ao cenário brasileiro. A revisão e o aprimoramento da legislação ambiental, a criação de mecanismos de financiamento adaptados à realidade da sustentabilidade e o fortalecimento da governança são passos essenciais para que o Brasil possa se consolidar como líder global na economia de baixo carbono. Que a COP30 seja um ponto de inflexão para a construção de um futuro mais justo, próspero e ecologicamente equilibrado para o Brasil e para o mundo.
Conteúdo relacionado: