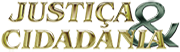Edição 295
O racismo obstétrico no Brasil e a implementação de políticas públicas e judiciárias para a promoção da equidade
1 de março de 2025
Elayne Cantuária Juíza de Direito no Tribunal de Justiça do Amapá / Professora colaboradora da Enfam

O termo “violência obstétrica” é utilizado para descrever qualquer ação ou intervenção praticada sem o consentimento da mulher, contrária às evidências científicas mais recentes, como também a negligência no atendimento, a discriminação racial e social, os abusos sexuais e a violência verbal, desrespeitando-se a autonomia e a integridade física e mental da mulher em qualquer fase, seja no pré-natal, no parto, no pós-parto, na cesárea ou no abortamento. Trata-se de forma de violência de gênero enraizada nas relações de poder, desigualdade e subjugação das mulheres, as quais, ao longo da história da humanidade, são alvo de violência manifestada de diversas formas, e essa se enquadra dentro do conceito da Organização Mundial da Saúde (OMS), como a imposição de grau significativo de dor e sofrimento evitáveis.
A violência obstétrica reflete as estruturas patriarcais que se manifestam de diversas maneiras, como xingamentos, comentários constrangedores, humilhações, realização de episiotomia sem anestesia (recomendada, no máximo, entre 15 e 30% dos casos), aplicação da manobra de Kristeller (compressão da barriga da gestante para empurrar o bebê), imobilização da mulher durante o parto (amarrar pernas e/ou braços), toques vaginais repetidos executados por diferentes profissionais, lavagem intestinal, restrição da ingestão de líquidos, impedimento do aleitamento materno na primeira hora após o parto, cirurgias cesarianas desnecessárias, proibição da presença de acompanhante no parto, além da não permissão de que a mulher escolha a posição durante o parto, a recusa do anestesista em administrar analgésicos e a peregrinação obstétrica em busca de atendimento no momento de dar à luz, entre outros.
Na perspectiva de raça, é sabido que as relações sociais no Brasil são desenvolvidas a partir do contexto histórico que legitimou a escravização e originou práticas, conscientes e inconscientes, enraizadas nas ações políticas, econômicas, sociais e culturais que retratam a pessoa negra como desprovida de inteligência, de humanidade e de habilidade de articulação política, como uma cidadania não plena. Na intersecção entre raça, gênero, classe e sexualidade, frequentemente o racismo se expressa de forma mais complexa na vida das mulheres negras. Na maternidade, elas são potenciais vítimas de violência obstétrica, conforme apontam algumas pesquisas, como a da Nascer no Brasil, que aborda equívocos na atenção pré-natal e do parto em razão da raça/cor das parturientes. Os dados revelam que a atenção ao parto não é a mesma entre mulheres brancas, pardas e pretas: em comparação às brancas, puérperas de cor preta possuem maior risco de terem pré-natal inadequado, falta de vinculação à maternidade, ausência de acompanhante, peregrinação para o parto e menos anestesia local para episiotomia.
Pesquisas destacaram manifestações verbais dirigidas a mulheres negras durante o pré-natal e o parto, como: “ouvi a recepcionista [pré-natal] dizer: negra é como coelho: só dá cria”, ou: “no parto do meu último filho, não me administraram anestesia”, e também “o médico não examinou a gestante negra”. Outros relatos incluíram: “durante o pré-natal, só me mandavam perder peso; e “eu nem sabia o que era eclâmpsia, quase morri”. Diante dessas evidências, abordar a violência obstétrica associada ao racismo institucional torna-se imperativo para expor a história de violações de direitos às quais as mulheres negras são submetidas, especialmente durante o período gravídico-puerperal. A escravização institucionalizou a privação da autonomia da mulher negra sobre seu próprio corpo e capacidade reprodutiva.
Vale ressaltar que a primeira referência jurídica internacional relacionada à mortalidade materna evitável decidida por um órgão internacional de direitos humanos foi o caso Alyne Pimentel, brasileira, negra, 28 anos de idade, grávida de seis meses, que buscou a rede pública no Rio de Janeiro devido a náusea e dores abdominais. Após receber analgésicos e ser liberada, retornou ao hospital, onde a morte do bebê foi constatada. Ela faleceu em 16 de novembro de 2002, devido a uma hemorragia digestiva relacionada ao parto do filho morto. Na decisão, o Comitê estabelecido pela Convenção para Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) recomendou que o Estado Brasileiro implementasse, entre outras disposições, medidas que: a) garantissem o direito da mulher a uma maternidade segura; b) provessem treinamento técnico adequado aos profissionais de saúde; c) garantissem acesso a recursos efetivos nos casos em que os direitos à saúde reprodutiva da mulher tivessem sido violados; d) garantissem que as instituições de saúde cumprissem com os padrões nacionais e internacionais relevantes sobre assistência à saúde reprodutiva.
Para a OMS a morte materna compreende aquela que ocorre durante a gestação ou até 42 dias após o término, independentemente da duração ou da localização da gravidez, conforme a 10a revisão da Classificação Internacional de Doenças (CID10). Essa morte é atribuída a qualquer causa relacionada à gravidez ou a medidas tomadas em relação a ela, excluindo causas acidentais ou incidentais.
O Brasil precisa, urgentemente, voltar-se para entender e enfrentar o racismo obstétrico, realidade latente e triste na sociedade, evidenciada nas pesquisas e estruturada em um recorte de gênero e raça. Que essa injustiça epistêmica possa ser combatida na vida das mulheres negras.
Conteúdo relacionado:
https://editorajc.com.br/2025/eficiencia-da-administracao-da-justica-em-redes/