Edição 207
O grupo econômico e a sucessão de empregadores no âmbito da Reforma Trabalhista
20 de novembro de 2017
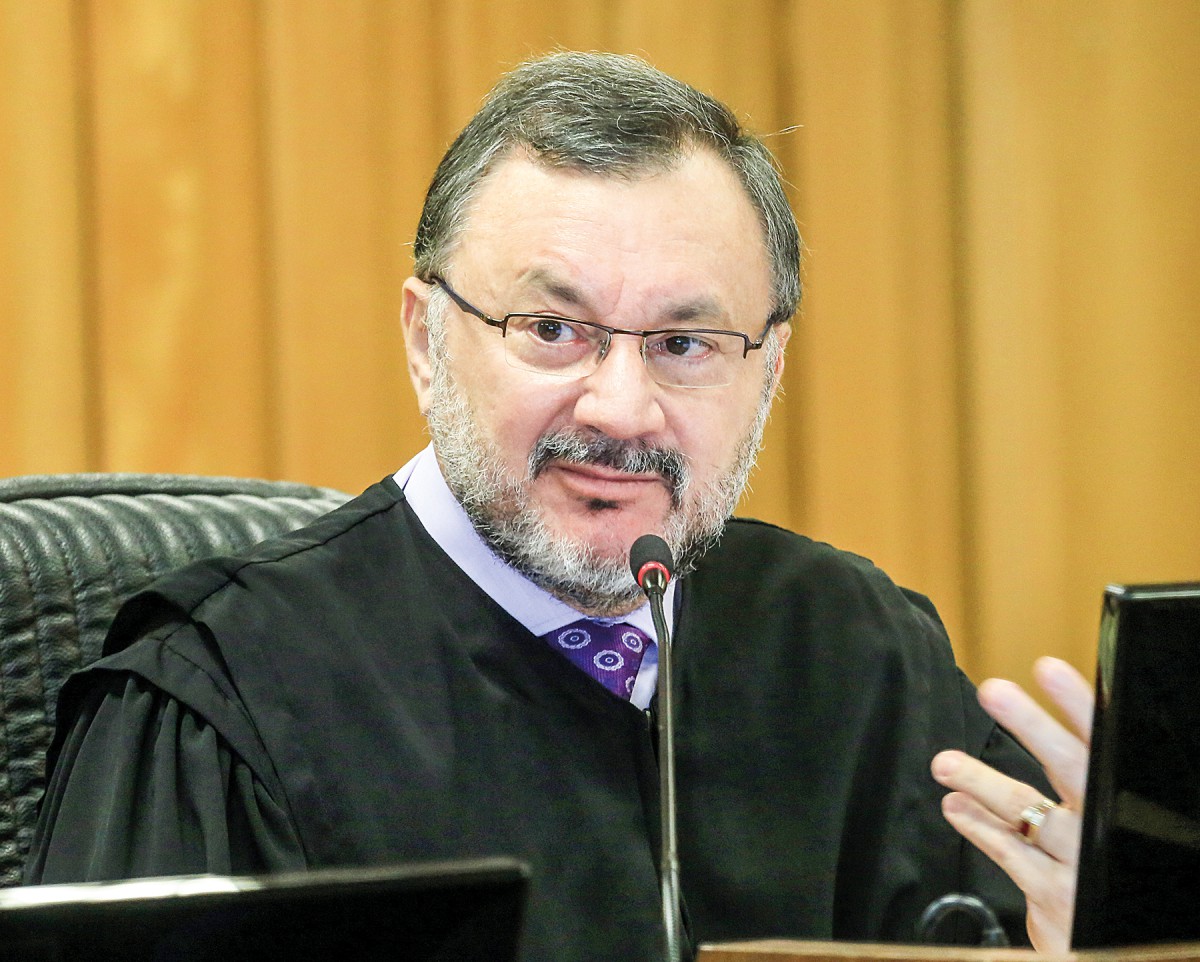
É sabido que a Lei no 13.467, publicada em 13 de julho de 2017, conhecida como “reforma trabalhista”, promoveu profundas alterações no ordenamento jurídico, tais como, ilustrativamente, a revisão de verbetes da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
Nesse novo cenário legislativo, incumbe ao magistrado trabalhista, a par de suas opiniões e convicções pessoais, a aplicação da lei a partir da interpretação que o sistema jurídico permite, sempre observando o primado da Justiça e a conformação com o texto constitucional, no sentido de promover equilíbrio na sociedade.
No presente artigo, formulam-se breves considerações acerca de dois institutos que sofreram significativas alterações no âmbito da reforma trabalhista e cujo novo regramento parece traduzir maior segurança jurídica e previsibilidade às relações de trabalho, comparativamente ao contexto anterior.
Refiro-me à configuração de grupo econômico e à sucessão de empregadores, em breves lineamentos, sem a pretensão de esgotar o tema.
Grupo Econônico
O artigo 2o da Consolidação das Leis do Trabalho enuncia o conceito de grupo econômico. Pela redação anterior à Lei no 13.467/17, poder-se-ia entender o grupo econômico como uma simples aglomeração ou reunião de empresas, responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.
Desse modo, o labor a qualquer uma das empresas desse conglomerado empresarial gerava a solidariedade entre todas as pessoas jurídicas integrantes, independentemente da identidade societária. Tal circunstância autorizava, assim, o empregado a demandar judicialmente qualquer das empresas integrantes do grupo econômico, afigurando-se irrelevante ter ou não o reclamante prestado serviços ao demandado eleito.
Prevalecia, portanto, a regra da aparência. Entendia-se como empregador todo o grupo econômico, de modo que a inadimplência da pessoa jurídica efetivamente empregadora gerava, para as demais integrantes do grupo, uma espécie de responsabilidade sem dívida e sem prévio benefício dos serviços do empregado.
Os requisitos para a caracterização de uma reunião de empresas como grupo econômico consistiam objeto de discussão doutrinária e jurisprudencial. Prevaleceu historicamente, contudo, o entendimento de que a relação empresarial necessária à configuração do grupo econômico, apta a gerar a responsabilidade solidária de todos os integrantes do conglomerado, era a de subordinação hierárquica – em detrimento de correntes iniciais que defendiam a mera coordenação de empresas.
Assim, o Tribunal Superior do Trabalho, na linha da doutrina majoritária, fixou o entendimento de que, existindo subordinação hierárquica entre empresas, tem-se por configurado o grupo econômico, ensejando a responsabilidade solidária de todos os seus integrantes pelas obrigações trabalhistas – e não somente da real empregadora.
Sobreleva notar que tal fenômeno gerava substancial insegurança jurídica. Isso porque uma empresa, que não manteve qualquer relação com determinado empregado, sem beneficiar-se de seus préstimos, diante da circunstância de inadimplência do empregador, poderia, na fase de execução, ter seus créditos penhorados por determinação da Justiça do Trabalho, sem prévia intimação, em razão do só fato de compor um aglomerado empresarial com a executada inadimplente.
Tal situação suscitava, inclusive, perplexidades de natureza processual. Isso porque, não raramente, a pessoa jurídica que sofreu a constrição, irresignada, opunha embargos à execução, e o Magistrado do Trabalho, entendendo não ser hipótese de devedor, no sentido estrito jurídico, afirmava cabível o manejo de embargos de terceiro.
A reforma trabalhista, nesse aspecto, trouxe efetiva segurança jurídica.
De plano, a nova legislação incorporou ao processo do trabalho as normas comuns acerca do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Isso significa que o Magistrado da execução deve oportunizar prévio direito de defesa à empresa integrante de grupo econômico, antes de promover atos constritivos.
Efetivamente, o Código de Processo Civil de 2015 fez incluir expressamente em seu texto o cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tanto na fase de conhecimento como na de execução. Desse modo, o terceiro, ainda que venha a ser incluído no grupo econômico, não será surpreendido com penhora de seus bens ou por uma decisão judicial em feito de que não participou, em que não se defendeu e no qual não teve a oportunidade de ser ouvido. Eliminam-se, assim, atos constritivos surpreendentes.
Ademais, a Lei no 13.467/17 – reforma trabalhista – arrolou requisitos objetivos para a configuração do grupo econômico, a partir da inserção do § 3o ao artigo 2o da Consolidação das Leis do Trabalho.
De plano, impõe-se destacar que, em positivação do que já configurava firme jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, a lei fixou que a mera identidade de sócios não caracteriza grupo econômico.
Logo, expressamente afastada a simples coincidência societária como elemento caraterizador de grupo econômico, cuidou a novel legislação de estabelecer a tríade de fatores que ensejam o reconhecimento do grupo econômico: “a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes”.
Com efeito, extrai-se do conceito legal que um grupo pode não atuar de forma homogênea, vindo a ser constituído precisamente por empresas que buscam o fortalecimento de suas relações interempresariais, sem, contudo, compartilharem dos mesmos interesses, vindo a atuar, cada pessoa jurídica, em seu ramo diferenciado.
Sobreleva destacar, acima de tudo, a necessidade de comprovação dos três requisitos acima descritos, a fim de que se tenha por configurado o grupo econômico. Tal exigência constitui importante regra de segurança jurídica, inexistente no ordenamento jurídico anterior à reforma trabalhista.
Nesse contexto, o novo ordenamento jus-trabalhista confere padrões de objetividade e de segurança jurídica às relações laborais que envolvam prestação de serviços a integrante de grupo econômico, mitigando os aspectos subjetivos e de imprevisibilidade que prevaleciam na ordem anterior à Lei no 13.467/17.
Sucessão de Empregadores
A par da caracterização dos grupos econômicos, outro fenômeno de fundamental relevância também objeto de profunda alteração pela reforma trabalhista, trata-se da sucessão de empregadores – chamada por vezes de sucessão trabalhista, muito embora não haja perfeita sinonímia entre as expressões.
Terminologicamente, ministra a doutrina que a sucessão de empregadores ocorre quando houver a aquisição da empresa ou da unidade produtiva da universalidade de bens ativos e passivos da empresa, e que isso importe em alteração das condições de trabalho, modificando as condições do próprio contrato de trabalho. É imprescindível, ainda, que o empregado da empresa sucedida continue a trabalhar para a empresa sucessora.
A sucessão trabalhista, a seu turno, corresponde à sucessão de empregadores em que não subsiste prestação de serviços para a pessoa jurídica sucessora.
Para os fins ora propostos, importa notar que o segundo requisito da sucessão de empregadores – a prestação de serviços sem solução de continuidade – não se afigura imprescindível para o reconhecimento da sucessão, bastando que ocorra a transferência patrimonial efetiva, que provoque a tangibilidade do contrato de trabalho dos empregados.
A regra veiculada a partir da reforma trabalhista confere responsabilidade exclusiva ao sucessor pelas obrigações decorrentes da relação de emprego – resguardada a possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica sucedida em hipótese de fraude.
Nesse contexto, acrescentou o legislador da reforma o artigo 10-A à CLT, preconizando que o sócio retirante responde subsidiariamente pelas relações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócios, “somente em demandas propostas até dois anos após a averbação da alteração contratual” (prazo decadencial), e observado o benefício de ordem acordado no dispositivo – que é insuscetível de subversão pelo juízo.
Logo, pode-se concluir que o novo ordenamento estabelece três patamares de dívidas e responsabilidade, em circunstâncias de alteração do quadro societário. Em primeiro lugar, tem-se a empresa, devedora, que possui dívida e responsabilidade pelo adimplemento dos créditos. Em segundo lugar, o sócio atual da pessoa jurídica, que não contraiu a dívida, mas possui responsabilidade. Por fim, o sócio retirante, que não possui dívida, mas detém responsabilidade subsidiária – secundária – e limitada ao período de dois anos.
A responsabilidade do sócio retirante, pelo prazo de dois anos, já se encontra prevista nos arts. 1.032 e 1.033 do Código Civil. Todavia, entendia-se que tal regra não se aplicava no âmbito do direito do trabalho, em razão do caráter alimentar das verbas deferidas no juízo especializado. A inserção de normativo semelhante no bojo da Consolidação das Leis do Trabalho altera esse cenário.
A nova regra – ou, melhor dizendo, a regra agora aplicável à seara trabalhista – traz segurança para os sócios. Como norma, o sócio retirante responde subsidiariamente durante o prazo decadencial de dois anos. A exceção é a hipótese em que restar constatada a ocorrência de fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato, por atuação em conluio entre o sócio retirante e os demais. Nesse cenário, a legislação prevê a responsabilidade solidária dos fraudadores.
Note-se que a regra de responsabilização do sócio retirante, em alguma medida, já existia na Lei das Sociedades. Usualmente, contudo, o Magistrado trabalhista deixava de aplicá-la, determinando a responsabilização de todo e qualquer sócio, ainda que não tivesse a direção do empreendimento. A diretriz traçada seguia a intenção de cobrança do crédito do reclamante, ainda que sob pena de gerar situações de notória insegurança jurídica, alcançando sócios que há muito já haviam se retirado da sociedade, sem indícios de fraude.
A seu turno, o artigo 448 da CLT complementa a regra da sucessão do artigo 10, fixando, como norma geral, que, nas hipóteses de sucessão empresarial ou de empregadores, as obrigações trabalhistas contraídas a qualquer tempo são de responsabilidade do sucessor. A empresa sucedida, contudo, responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada a fraude no negócio jurídico.
Cumpre registrar, ainda, que o instituto da sucessão não se aplica à empresa em recuperação judicial, tampouco à empresa falida adquirida em hasta pública. A questão jurídica, relativa à interpretação da Lei no 11.101/05, e notadamente presente em controvérsias envolvendo empresas do setor aéreo, foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou o entendimento de que nenhum cenário de alienação de empresa em recuperação judicial no processo de recuperação judicial gera o fenômeno de sucessão.
A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho seguiu na mesma trilha do STF. Dessarte, as pessoas jurídicas adquirentes dos ativos de empresas em recuperação judicial ou em estado falimentar não respondem pelas dívidas contraídas anteriormente à aquisição.
Trata-se, uma vez mais, de regra de segurança jurídica, que fará com que os negócios jurídicos tenham maior previsibilidade.
Ilustrativamente, o Tribunal Superior do Trabalho, por meio do Tribunal Pleno, julgou, no âmbito dos recursos repetitivos (Tema no 7), a controvérsia envolvendo a TAP, que adquiriu parte da VARIG, empresa aérea em recuperação judicial. A Corte confirmou o entendimento e firmou a tese, de observância obrigatória, no sentido de que, como a unidade produtiva foi adquirida em meio a processo de recuperação judicial, a adquirente não deve responder pelos débitos trabalhistas decorrentes de relações de emprego firmadas anteriormente à aquisição.
Como um todo, observa-se que a reforma trabalhista teve dentre seus objetivos traduzir regra de proteção à figura do sócio, notadamente a fim de evitar que seja inscrito indevidamente no rol dos devedores o sócio que dele não deveria constar, minimizando constrições surpreendentes. No plano negocial, trata-se de regra de extrema importância, e que não pode ser afastada da seara trabalhista.
Caberá, assim, ao Juiz do Trabalho observá-la e evitar exacerbação da aplicação do princípio protetivo do trabalhador. Incumbirá, ainda, ao Tribunal Superior do Trabalho amadurecer as discussões emergentes da nova legislação, com sabedoria, disciplina, segurança e previsibilidade, tendo em mente que a atuação do magistrado trabalhista deve adequar-se, sobretudo, ao que estabelece a lei.
